Milhares de jovens têm um diabetes diferente e usam insulina sem precisar

Crédito: iStock
Diabetes é uma palavra que não veste um único problema. Na verdade, cai feito luva em uma série de doenças que às vezes se comportam de um jeito bem diferente entre si e que, em comum, têm apenas o fato de provocarem o tal excesso de glicose na circulação. Mas, sim, são muitos os diabetes. E vou logo contando: existe até mesmo um diabetes que não provoca danos nos rins, nos olhos, no coração e nos nervos dos pés à cabeça. E que, portanto, não exige um remédio sequer, nem comprimido, nem injeção de hormônio.
Mas, imagine, essa criatura corre o risco de ser tratada da maneira errada, usando medicação à toa. Isso porque o mundaréu por trás da expressão diabetes — um mundo tão vasto que é habitado por nada menos do que 14 milhões de brasileiros, estimando com modéstia — pode ser dividido em quatro grupos. Só que um deles é pouquíssimo conhecido.
O tipo 1, este famoso, é autoimune: ainda na infância ou na adolescência, o sistema de defesa resolve encrencar com as células produtoras de insulina no pâncreas e, aí, não resta uma delas pra contar história. Então, sem o abastecimento normal de insulina, a glicose obtida por meio da alimentação simplesmente não consegue entrar nas células. Se não é feita a reposição desse hormônio por injeções, apesar da fatura de açúcar no sangue, elas morrem de fome. Ao pé da letra.
O tipo 2 costuma aparecer em adultos, pode ser tratado apenas com medicação oral e está muito relacionado ao excesso de peso. Se bem que, agora os médicos desconfiam, nessa gente as células-beta do pâncreas — aquelas tais que produzem insulina — já não devem ser nenhuma maravilha de fábrica. "Essa forma resulta de uma soma de obesidade com células-beta não tão boas. Caso contrário, toda pessoa com excesso de peso teria diabetes", raciocina a endocrinologista cearense Milena Teles, médica do Grupo Fleury e também responsável pelo Ambulatório de Diabetes Genético do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Foi ela quem me descortinou o admirável grupo dos diabetes raros. Eu, pelo menos, fiquei de queixo caído.
Ah, sim, o terceiro grupo dos diabetes é o gestacional, que aparece na gravidez e passa. Ele também é mais conhecido de todos nós. E, aí sim, finalmente vêm os diabetes raros. Será que são tão raros mesmo? Tudo bem que 90% dos diabéticos são tipo 2; outros 5%, talvez um pouquinho mais, são tipo 1… Os diabetes raros, então, ficam no máximo com uma fatia de 2%, até que se prove o contrário.
Parece pouco, olhando só para porcentagens, mas faça as contas: são cerca de 280 mil brasileiros, chutando baixo. Estudos mais ousados, publicados em 2015, apontam que até 6% dos jovens diabéticos — e não 2% — são portadores de tipos raros. Vai vendo o tamanho da confusão… Aliás, mesmo partindo do princípio de que são 280 mil, ora, eles não são poucos!
Essa turma é uma miscelânea. Nesse saco de gatos, existem aqueles em que o excesso de glicose é uma mera consequência de outra coisa. Por exemplo: pode sobrar açúcar no sangue de quem precisa tomar corticoides sempre. Outros indivíduos sofrem de doenças endócrinas que nada têm a ver com o pâncreas, como é o caso da acromegalia, um excesso de hormônio de crescimento em adultos que também eleva a glicose sanguínea. Mas há também os fantásticos tipos de diabetes monogênicos. Vale até eu repetir para gravar: formas monogênicas. Essas podem ser o pandemônio.
Por trás dos tipos comuns de diabetes, como o 1 e o 2, existem muitos genes envolvidos. No caso dos monogênicos, como o nome indica, o defeitinho maldito está em um gene só. Unzinho. E ele pode ou bagunçar a secreção de insulina ou levar as células a resistirem a esse hormônio.
O mais prevalente dos diabetes monogênicos atrapalha justamente a produção do hormônio do pâncreas e ele atende pela sigla MODY, já ouviu falar? Confesso: até ontem, eu não. Ela vem do inglês maturity-onset diabetes of the young. O nome lembra um tempo em que o diabetes tipo 2 era chamado de senil, típico da maturidade. Pois bem: em uma livre tradução, seria o diabetes da maturidade que acontece em jovens. Isso porque se assemelha mais ao tipo 2 no comportamento. Mas digamos que, olhando de fora, tem a cara do tipo 1.
Ora, o jovem com MODY é magrinho. Sim, estamos falando de jovens — no máximo com uns 25 anos. "O médico vê o menino ou a menina exibindo magreza e com a glicemia alta. Daí, deduz ser mais um paciente do tipo 1. Resultado: o adolescente começa a injetar insulina sem necessidade", diz Milena Teles.
O teste do painel genético, que avalia de uma só vez 14 genes por trás das formas de diabetes monogênicas — MODY entre elas — ainda é salgado, por mais que o preço tenha encolhido nos últimos anos. Ele seria a prova dos nove e a torcida é para que se popularize ainda mais. No entanto, há uma pista preciosa que qualquer um pode notar: se o pai ou a mãe é diabético e se, neles, a doença também surgiu cedo. "O tipo 1 não é hereditário. Se a gente olhar, só 5 em cada 100 portadores desse diabetes que precisa de fato das injeções de insulina têm pais diabéticos", ensina Milena Teles. Portanto, a lâmpada amarela acenderia quando o adolescente tem mais casos da doença na família. Ora, ora, o MODY é herdado. Ponto.
Outra pista: esse paciente secreta, sim, insulina. Em uma quantidade mixuruca, mas secreta. "Além disso, se eu fizer um exame de anticorpos, verei que o sistema de defesa dele não está agredindo o pâncreas", alerta a doutora Milena. E convenhamos: teste de anticorpos é mais acessível do que os exames genéticos e deveria ser o básico dos básicos para diferenciar um diabetes de outro. No entanto, quando a raiz do diabetes está em um único gene os enganos são frequentes.
O MODY dos adolescentes costuma dispensar insulina. "Na maioria dos casos, a simples medicação oral dá conta do recado. Aliás, em baixíssima dose, porque às vezes até meio comprimido resolve", diz a médica. O impacto da descoberta não é só no tratamento. Vale para o aconselhamento da família: afinal, quem carrega o gene da doença tem 50% de probabilidade de passá-lo para o filho.
Entre os MODY, para meu espanto, existem até mesmo casos em que a alteração está em um gene chamado GCK e, se é assim, o jovem tem uma hiperglicemia leve quando fica em jejum. "Sabemos que o excesso de glicose só é especialmente danoso nas primeiras horas após a pessoa comer algo, o que chamamos de glicemia pós-prandial", conta a doutora Milena. Na prática, isso significa o seguinte: não há risco algum para os órgãos. Logo, não há o que tratar.
Há indivíduos com defeitos no GCK acompanhados há mais de 25 anos sem complicação alguma e, diga-se, eles nem engolem a tal dose baixinha de remédio oral. Só se cuidam para manter o peso, com a dobradinha de exercício e dieta equilibrada. Mas, até que todos fiquem ligados, pacientes com diabetes assim, aos milhares, por total desconhecimento e falta de testes genéticos ainda serão tratados com picadas de insulina. Um equívoco doloroso.











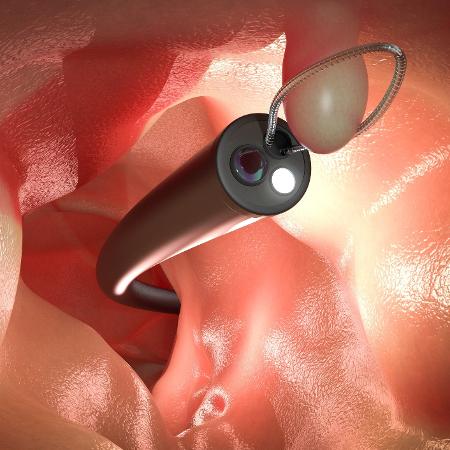

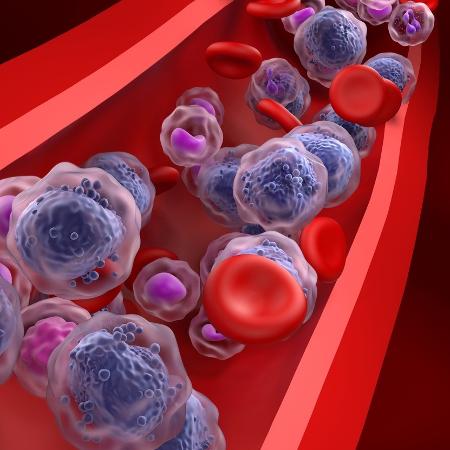

ID: {{comments.info.id}}
URL: {{comments.info.url}}
Ocorreu um erro ao carregar os comentários.
Por favor, tente novamente mais tarde.
{{comments.total}} Comentário
{{comments.total}} Comentários
Seja o primeiro a comentar
Essa discussão está encerrada
Não é possivel enviar novos comentários.
Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.
Só assinantes do UOL podem comentar
Ainda não é assinante? Assine já.
Se você já é assinante do UOL, faça seu login.
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.