Boas perguntas sobre anticorpos que o uso do plasma convalescente levanta
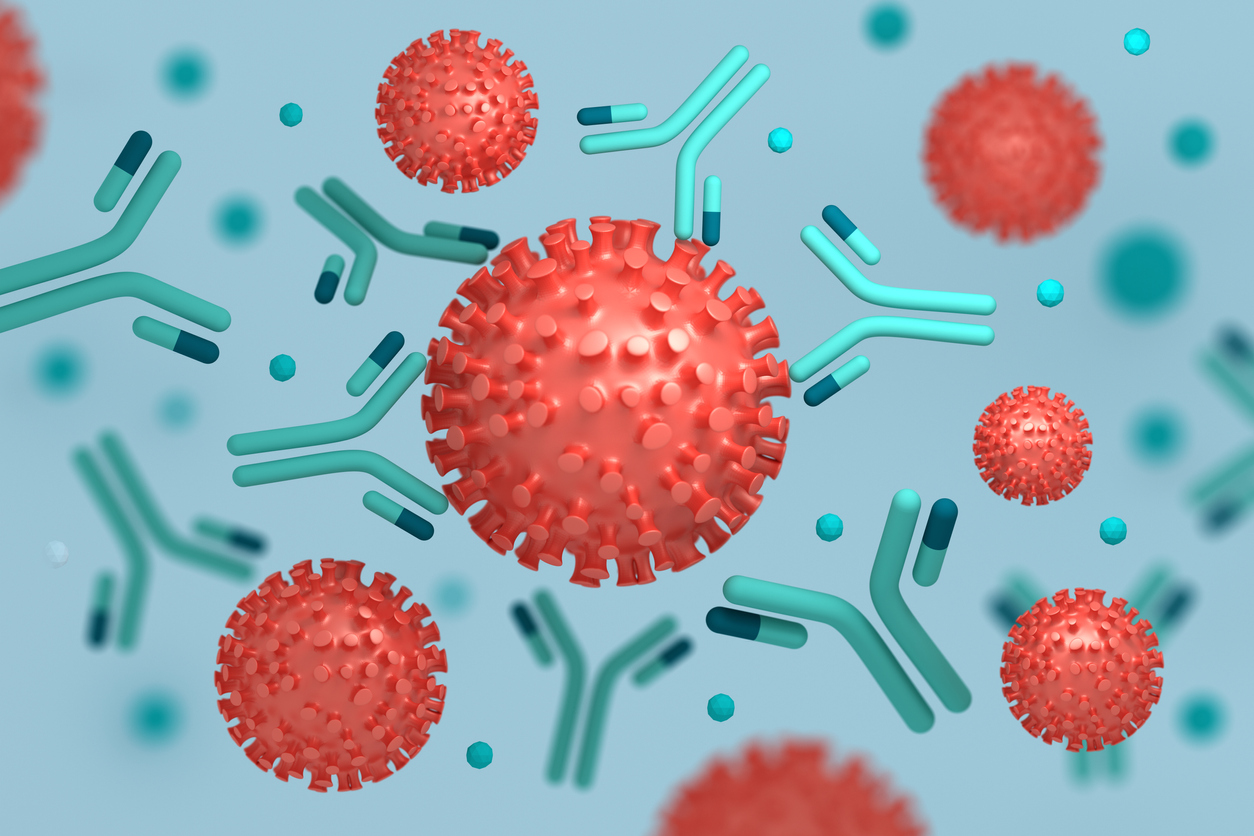
iStock
Nas tentativas de armar o cerco ao novo coronavírus, diversas terapias estão sendo estudadas pelo mundo afora e você sabe bem disso. Algumas chamam a atenção quando mal são cogitadas, mas logo esfriam e são descartadas. Outras, depois de se apresentarem como promessa, parecem ficar em um longo banho-maria — leia, em testes — e por um tempo a gente não fala tanto delas. É o caso do plasma convalescente, assunto que voltou a aquecer bastante nos últimos dias.
Afinal, em meados de agosto, cientistas do Houston Methodist Hospital and Research Institute publicaram um estudo envolvendo 316 indivíduos infectados pelo Sars-CoV-2, todos em estado grave. Eles garantem que o plasma sanguíneo doado por pessoas que já tiveram a covid-19, transfundido em 136 desses doentes, foi capaz de diminuir a mortalidade em comparação com o que aconteceu com restante do grupo, que não foi tratado desse jeito.
Os americanos de Houston disseram mais: segundo eles, os resultados são melhores se os médicos apelam para o plasma convalescente nas primeiras 72 horas após a internação na UTI.
A coisa toda ferveu quando, dez dias depois, o FDA — órgão regulatório nos Estados Unidos — autorizou o uso emergencial desse plasma carregado de anticorpos produzidos pelo sistema imune de pessoas já recuperadas da infecção pelo novo coronavírus. Por uso emergencial, entenda: o quadro deve ser severo pra valer e o diagnóstico de covid-19 precisa ter acontecido no máximo três dias antes, não mais.
A aprovação do FDA, na certa, vai facilitar o acesso de pessoas em estado crítico a uma terapia que continua sendo promissora. Já ouviu aquela do "não custa tentar"? É bem isso. Pelo menos até que se prove o contrário em estudos realizados por aí — inclusive, entre nós.
Para entender essa segunda onda de alvoroço em torno do plasma convalescente, fui atrás de um dos responsáveis pela primeira pesquisa nessa linha de investigação no Brasil, o hematologista José Mauro Kutner, gerente médico do departamento de Hemoterapia e Terapia Celular da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein, em São Paulo.
"Por enquanto, não há motivo forte o suficiente para a gente deixar de lado a hipótese de o plasma convalescente funcionar em alguns casos de covid-19", diz ele, que começou a testar o tratamento ainda em março, ao lado de médicos de outro grande hospital paulistano, o Sírio-Libanês.
Mas nem por isso Kutner recomenda que a gente bote muita fé por antecipação. Falta de uma série de respostas para perguntas que essa terapia levanta. Uma delas, bombástica: para quem já está muito doente, será que os anticorpos são capazes de fazer tanta diferença assim?
No estudo em que Kutner está envolvido, foram 60 pacientes no total. "Metade recebeu o plasma convalescente aqui conosco e a outra metade, no Sírio", explica. "O fato é não podemos dizer que esses pacientes melhoraram muito, mas eles também não pioraram", revela.
Ou seja, o plasma convalescente continua em cima do muro. Outra etapa de pesquisa, com mais 60 pacientes, deve começar em breve. E existem mais de 20 outros centros pelo país que também estão experimentando essa terapia.
Uma história de velhas frustrações
Vamos combinar que a sacada do plasma convalescente de novidade não tem nada. É uma velha ideia que a medicina recauchutou no desespero de se ver desafiada por uma doença completamente estranha. Remonta do século 18 e o princípio é dos mais simples: se alguém já teve determinada infecção e se curou, isso é prova de que seu organismo produziu defesas. Por que, então, não transferi-las para quem está precisando se defender depressa neste exato instante? Uma pronta-entrega!
O plasma é a parte líquida do sangue onde os anticorpos defensores ficam boiando, depois de serem extraídos os glóbulos vermelhos e os brancos nos hemocentros. Logo, doar o plasma repleto dessas moléculas para alguém doente seria uma espécie de gambiarra biológica, dando um jeitinho de o paciente pegar para si o que o outro produziu ao se safar da doença. De novo, por que não?
"Isso é diferente do que pode fazer uma vacina, que ensina o organismo a se defender sozinho contra um agente infeccioso", esclarece Kutner. "O plasma com anticorpos não ensina nada. Simplesmente entrega as moléculas defensoras para agirem de imediato, enquanto elas durarem na circulação." É o que se chama de imunização passiva. E é passiva porque o sistema imunológico do doente não precisa fazer nada, recebe os anticorpos de mão beijada.
Ao ouvir essa saída, ela é até uma boa pedida. A questão desanimadora é que isso foi tentado algumas vezes no passado sem resolver grande coisa. O plasma convalescente saiu da cartola, por exemplo, na gripe espanhola e… não deu em nada. "No nosso século, na epidemia de Sars na China há dez anos, ele também foi utilizado", diz Kutner, refrescando a nossa memória. E o mesmo aconteceu na epidemia de Mers, no Oriente Médio, e de Ebola, na África.
Pena que não tenha dado certo nessas ocasiões. Mas, fazendo justiça, talvez os cientistas não tenham ido tão a fundo para analisar os seus efeitos. "Primeiro, por não ter muito plasma disponível. Um dificultador era depender de doações", lembra o hematologista do Einstein. E — que bom! — o mundo melhorou pelo menos nesse quesito. Na marra ou no susto, penso eu com leve amargura. "Preciso reconhecer que, aqui no Brasil, muita gente que teve a covid-19 apareceu para doar", conta Kutner.
Outro ponto que interrompeu as experiências do passado foi o fato de as epidemias, de alguma maneira, terem se resolvido. Daí, todas as lições preciosas que poderiam ter sido aprendidas com elas não foram completadas. E agora vivenciamos uma pandemia. "No final das contas, porém, a realidade é que, como os estudos anteriores pararam, o uso de plasma convalescente acabou sem comprovação", conclui Kutner.
Será então que, pelas experiências frustradas — para não dizer frustrantes —, podemos imaginar que esse tratamento também será um fracasso na covid-19? "Não dá para dizer. São doenças diferentes, talvez esse tratamento funcione para algumas infecções e não funcione para outras", responde o médico. A ver.
A garantia dos anticorpos
Anticorpos por si só — vale explicar — não garantem muita coisa. Para dar um exemplo claro: "Na Aids, temos anticorpos", aponta Kutner. "Tanto que podemos flagrar a infecção pela presença deles no sangue. Nem por isso esses anticorpos conseguem eliminar o HIV". Covid-19 e Aids são viroses bem direrentes entre si, fique bem entendido. A comparação apenas ilustra como um raciocínio simplista nunca se dá bem no mundo das infecções.
Aliás, se os anticorpos prontinhos do plasma um dia se mostrarem ineficientes, isso também não quer dizer que anticorpos criados pelo próprio organismo vacinado — no dia em que existir vacina — não conseguirão deter o novo coronavírus.
"Não sabemos nem quantos, nem que tipo de anticorpos estamos oferecendo ao paciente quando lhe injetamos em uma ou, no máximo, em duas doses o plasma de outro indivíduo. Pode ser que, por azar, eles acabem se ligando a uma parte do vírus que não o impeça de agir. E tudo isso pode ser muito mais controlado no desenvolvimento de uma vacina", diz Kutner.
Como é o procedimento
Ele é o mesmíssimo de uma doação de sangue normal para coleta do plasma. E a transfusão para o paciente, idem. Até aí, sem mistério. "O problema é que, em teoria, deveríamos oferecer um plasma com a maior carga possível de anticorpos. Mas ainda não temos resposta para o seguinte: em qual momento quem já teve a covid-19 está no ápice de anticorpos no plasma, depois de já ter, com toda a segurança, se livrado do vírus?", provoca Kutner.
Aliás, esse é um problemaço. Se o tratamento não faz o efeito desejado, não dá para saber se o resultado ruim foi devido a um plasma com menos anticorpos do que o necessário.
Os testes para flagrar os chamados anticorpos neutralizantes, diz o médico, nesse caso não são fáceis como aqueles que são feitos só para acusar se uma pessoa teve ou não teve a covid-19. No caso, eles vem sendo realizados no Instituto de Biocências da Universidade de São Paulo, em uma parceria para a pesquisa. A tecnologia é complexa demais e não é encontrada em laboratórios de análises clínicas.
Para saber se o que ajuda é mesmo o plasma
Os resultados do trabalho brasileiro ainda estão sendo analisados, se você quer saber. É também complicado enxergar as proezas do plasma — se é que elas existem. Explico: ninguém brinca com a vida de um sujeito internado na UTI e com dificuldade extrema para respirar. Em outras palavras, o paciente continua recebendo remédios que podem ajudar a salvar a sua vida. Eles vão de antibióticos a anti-inflamatórios. E, portanto, como saber quem fez o quê?
Se um participante do estudo a respeito do plasma se livra da covid-19, o que realmente pode ter feito a diferença para ele ter final feliz? "Aplicamos alguns métodos estatísticos que conseguem limpar esses dados, separar os outros tratamentos e nos dar uma noção mais clara do papel do plasma convalescente de maneira isolada. Mas isso é muito trabalhoso. Daí a demora", justifica o médico.
Atrás de respostas
Em caminhos paralelos, há quem busque meios de criar, digamos, concentrados de anticorpos para resolver aquela questão da quantidade. Ou até mesmo quem esteja correndo atrás de anticorpos monoclonais, fabricados em laboratório. Mas isso ainda vai demorar um bocado para se tornar realidade dentro de hospitais. Melhor ficar ligado nas questões do presente, ou seja, com os estudos do plasma convalescente que estão sendo realizados.
Quem seria o doador ideal e qual o momento certo para doar? — estas são duas das perguntas que os médicos se fazem. "Por enquanto, estamos usando o plasma doado por quem já teve a doença por mais de 15 dias para evitar que ainda exista vírus circulando em seu organismo", conta Kutner. Por outro lado, ele e seus colegas não aceitam o plasma depois de 30 dias que a doença passou. Porque sabidamente o número de anticorpos vai caindo com o tempo. E daí talvez não haja quantidade suficiente dessa molécula para surtir um efeito positivo.
Outra boa pergunta é mais cabeluda: qual paciente seria beneficiado? O tratamento, hoje, é aplicado experimentalmente nos casos mais graves. "Só que, nessa fase avançada, uma das questões mais debatidas é que destruir o vírus talvez já não seja a medida mais importante e, sim, atenuar a a resposta inflamatória por todo o corpo, que passa do ponto", diz Kutner.
Com certeza, ter ou não ter anticorpos seria útil para evitar a doença ou impedir o seu avanço quando o novo coronavírus ainda está pegando leve. Mas, quem sabe, não significaria a cura de quem já apresenta quadros bem avançados. No máximo poderá ajudar e olhe lá. Mas, ok, não estamos em condições de negar ajuda.




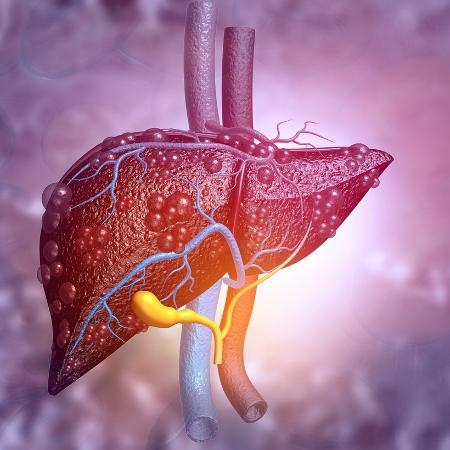







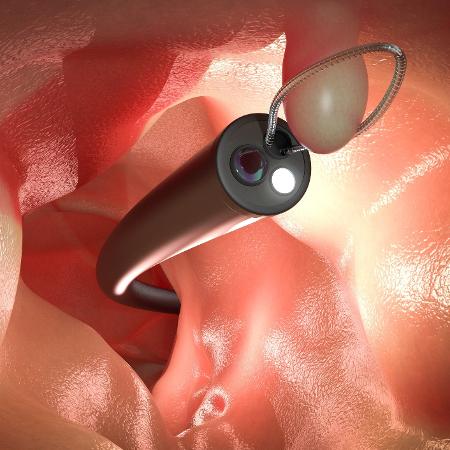

ID: {{comments.info.id}}
URL: {{comments.info.url}}
Ocorreu um erro ao carregar os comentários.
Por favor, tente novamente mais tarde.
{{comments.total}} Comentário
{{comments.total}} Comentários
Seja o primeiro a comentar
Essa discussão está encerrada
Não é possivel enviar novos comentários.
Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.
Só assinantes do UOL podem comentar
Ainda não é assinante? Assine já.
Se você já é assinante do UOL, faça seu login.
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.